O maior dos paradoxos talvez seja querer superar nossa limitação racional com a própria razão
ensaio de Gonçalo Armijos Palácios*
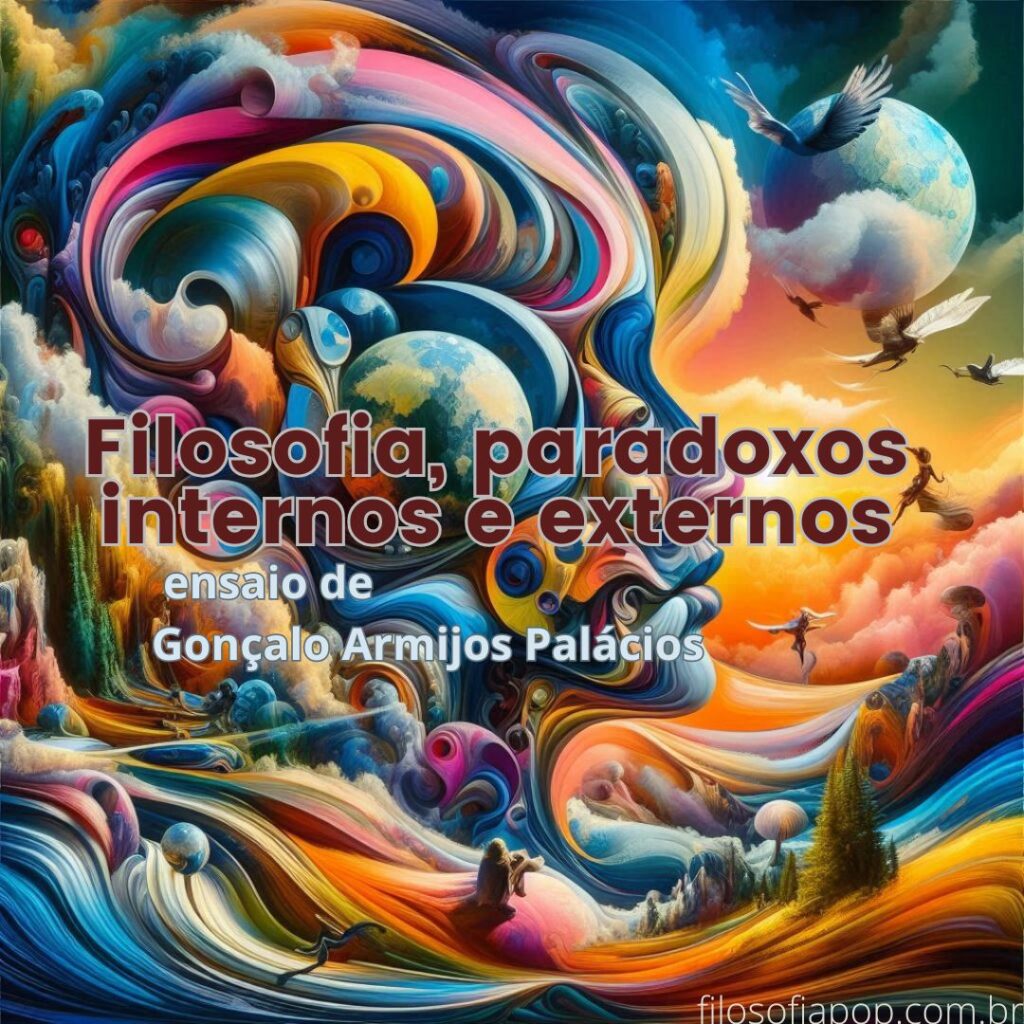
Num sentido, a filosofia é a história de seus paradoxos. Alguns filósofos, como Heráclito, levaram o paradoxo ao extremo. Em outros autores, como em Platão, podemos ver a luta do filósofo para resolvê-los. Num determinado período do seu pensamento, Platão declara-se um fiel seguidor de Parmênides. Posteriormente, reconhece que deve abandonar sua teoria sobre o ser e, cometendo um “parricídio” teórico, decide abandonar a tese de que o ser não admite o não-ser. Mas a filosofia não só é paradoxal porque determinadas teorias filosóficas podem sê-lo, mas porque, tomada no seu conjunto, ela não admite uma redução definicional. Não podemos, isto é, forçar tudo o que a história considera como filosófico numa única definição. “Não podemos”, não porque não devamos fazê-lo, mas porque estamos impossibilitados de conseguir uma única e abrangente definição de filosofia. Uma que de fato valha para todas as diversas posições filosóficas que o mundo ocidental conhece.
Não é incomum escutar, daqueles que não estudaram filosofia, a opinião de que ela é incompreensível. A verdade é que, vista no seu conjunto, deve aparecer ao leigo com um conjunto confuso e obscuro de afirmações conflitantes. Fora da filosofia, as pessoas exigem resultados definitivos, claros, precisos. Não percebem que isso tampouco é fácil exigir das ciências. Mesmo as ciências chamadas naturais nem sempre estão em condições de fornecer esse tipo de respostas, como quando alguém aponta para uma flor branca e diz, “essa flor não é vermelha”. As causas das coisas, assim como as tendências que os fenômenos possuem, não podem ser apontadas assim, dessa crassa maneira empírica. Quantas pessoas aceitam que o homem é fruto de um processo evolutivo? E, dentre as que aceitam, há unanimidade sobre qual foi a linha evolutiva precisa que levou de espécies humanóides ao que hoje somos? Nem dentro, nem fora da ciência encontramos unanimidade a esse respeito. Não há esse “dado empírico”, essa “flor branca”, que esteja aí para provar uma coisa ou outra. Até pouco tempo ainda se discutia a causa do desaparecimento dos dinossauros. E mesmo agora que parece que a maioria de cientistas concorda com a teoria do gigantesco meteorito que teria impactado a Terra e causado sua extinção, ainda há vozes discordantes. Tinha o Tiranossauro Rex sangue quente? Há cientistas que afirmam que, para movimentar-se nas velocidades que teria precisado para caçar suas enormes vítimas, deveria ter tido sangue quente. Outros afirmam que não, e uma razão seria o tamanho ridiculamente pequeno de seus braços. Com braços tão pequenos não poderia agarrar nada e, caso caísse, seus braços não poderiam ajudá-lo a se levantar. Essas características, pensam alguns, só poderiam pertencer a um comedor de carniça, não a um caçador. Nesse caso, não sendo predador, não teria precisado ter sangue quente. Esses são dois pequenos e rápidos exemplos do que a ciência é. Algo que o filósofo Hobbes disse no século XVII: a ciência é hipotética. Pois, como ele mesmo disse, o único conhecimento absoluto que temos é do presente. Que isso está aí, que acolá está aquilo etc.
Nem a filosofia nem a ciência lidam com o diretamente observável. O que vemos, tudo aquilo que nos rodeia, seja nos corpos, na vida animal ou na sociedade humana, pode estimular nosso raciocínio, provocando questões e levantando problemas. Mas as questões são para explicar o que está ali, não simplesmente para descrevê-lo. E, mais ainda, para explicá-lo por que hoje é como é, como teria sido antes e como será no futuro. Esses ‘porquês’ e ‘comos’ apontam para o passado, para o futuro e para um mundo não direta e imediatamente perceptível, mesmo no presente. Isso faz da atividade humana chamada “ciência”, assim como da filosofia, uma atividade re-flexiva, e, nesse sentido, hipotética. Percebemos problemas, levantamos questões, postulamos hipóteses e tentamos argumentar em favor delas. O que é considerado definitivo talvez seja muito pouco, se comparado ao que o ‘definitivo’ levanta como novo problema. Pois maiores são as dúvidas e as incertezas do que as certezas.
A filosofia compartilha isto com a ciência: as duas são tentativas racionais de resolver problemas. A ciência tem algo que a filosofia não possui: nela é possível se chegar a resultados definitivos e incontestáveis. Na filosofia não. Ou, se chegamos, talvez estejamos abrindo uma nova área de pesquisa científica, e, com isso, afastando-nos da filosofia. Que em filosofia não possamos chegar a resultados incontestáveis não significa, por outro lado, que não os procuremos nem que não pensemos que os possamos obter. Ninguém poderá contestar que há um código genético dos seres humanos, nem que o DNA de uma pessoa é único. Com a mesma certeza alguém poderia negar que Deus existe. Mas essa última afirmação pode ser contestada por tantos quantos tenham boas razões para acreditar o oposto. Que Deus exista ou não, penso, faz toda a diferença para o homem. No entanto, que não possamos chegar a um resultado unânime e incontestável sobre Sua existência não significa que não possamos estar convencidos de que Deus existe, ou de que não existe — ou, por não termos esperança de concordar com os outros, que não devamos pensar no assunto.
Inúmeros são os problemas que podem nos interessar e que não podem ser resolvidos com procedimentos imediatistas. Muitos desses são problemas que a ciência discute, outros, a filosofia. Sobre os que mais nos interessam, talvez, nem a ciência nem a filosofia tenham respostas definitivas e incontestáveis. Mas o fato de não termos esperança de chegarmos a um consenso não é razão para parar de fazer ciência ou filosofia. Mesmo quando chegamos a respostas satisfatórias, sempre procuramos nos aprofundar e descobrir um pouco mais. Cientes das nossas limitações, fazemos ciência e filosofia com a esperança de superá-las, aí talvez esteja a causa de todos os paradoxos.
| *Gonçalo Armijos Palácios José Gonzalo Armijos Palácios possui graduação e doutorado em Filosofia pela Pontificia Universidad Católica Del Ecuador (1978 e 1982, respectivamente) e doutorado em Filosofia pela Indiana University (1989). Realizaou estudos de pós-doutorado na Indiana University em 1996 e 1997. Desde1992 é professor titular da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, metafilosofia, filosofia política e ensino de filosofia. Participou do Grupo de Sustentação para a criação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, em 2006, do qual foi seu primeiro coordenador eleito. Foi o fundador do Curso de Pós-Graduação em Filosofia da UFG (1993), da revista Philósophos (1996), do Curso de Graduação em Filosofia da cidade de Goiás da UFG, em 2008, e participou da criação do Campus Cidade de Goiás da UFG em 2009. |
| publicado originalmente na Coluna Ideias do Jornal Opção |
O post Filosofia, paradoxos internos e externos apareceu primeiro em filosofia pop.






