Só quando se tem a coragem de pensar por si e discutir é que podemos esclarecer a nós mesmos e continuar filosofando
ensaio de Gonçalo Armijos Palácios*
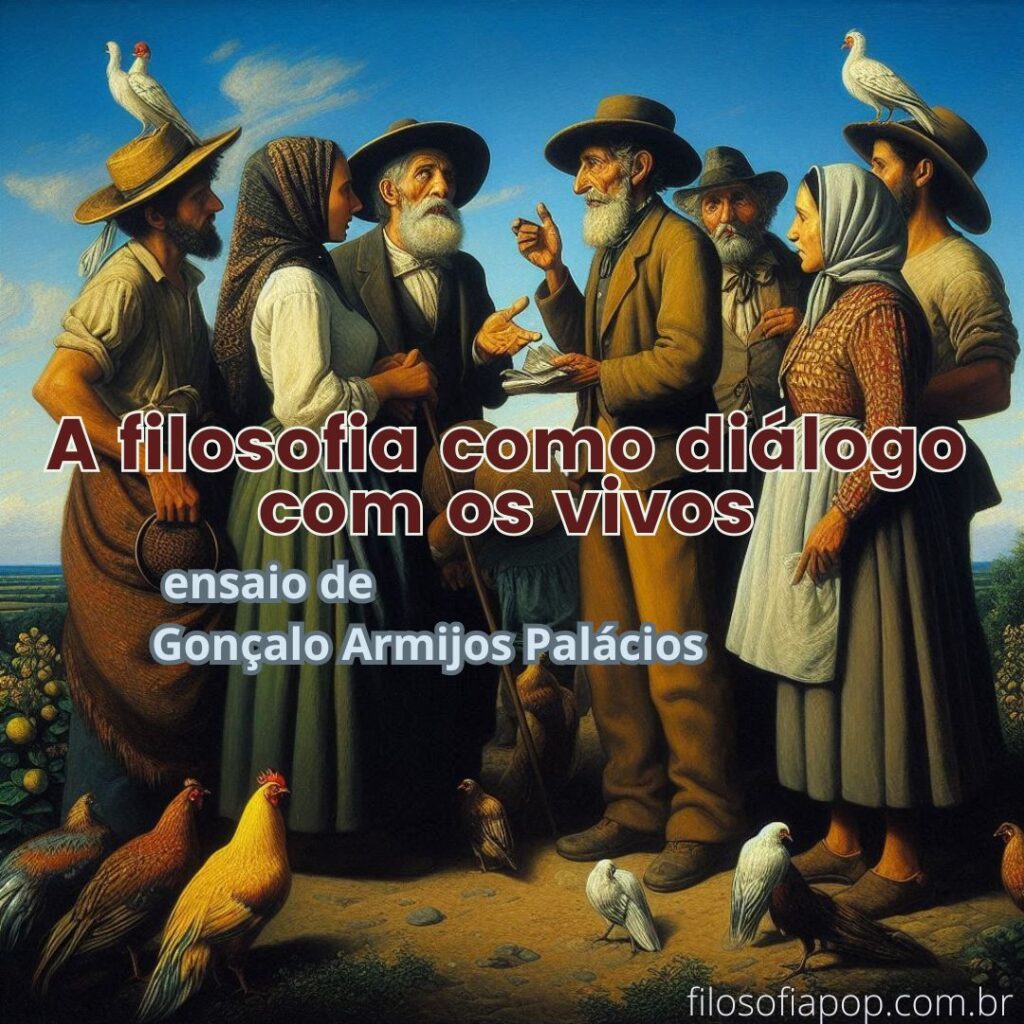
Foi com muito prazer que, faz alguns anos, li um texto publicado no Opção Cultural.[1] O autor do texto levantava considerações críticas sobre minhas teses. Há ideias que considerei interessantes e que estimularam a reflexão. Passemos a elas. “A música e a medicina”, dizia o autor do texto, “são parecidas, por possuírem, diferentemente da filosofia e da literatura, um componente técnico”. No que diz respeito à filosofia, a afirmação é falsa. No final do século 19 começa a se consolidar um tipo de pesquisa filosófica que revolucionou a filosofia do século 20: a lógica matemática. A lógica matemática está por trás de toda uma área de pesquisa da filosofia contemporânea: a filosofia da linguagem. Eu mesmo estudei lógica matemática e filosofia da linguagem no meu doutorado nos Estados Unidos. Precisamos ver o trabalho de autores como Frege, Russell, Wittgenstein e Quine, para citar só alguns poucos, para apreciar o grau de sofisticação e complexidade de teorias e teses apresentadas em textos com um elevadíssimo “componente técnico”. Aqueles filósofos se revolveriam no seu túmulo se pudessem ouvir tal afirmação.
Mas não é só na lógica matemática e na filosofia analítica da linguagem que existe tal “componente técnico”. Há outra área que se desenvolveu paralelamente à lógica matemática e que só podemos estudá-la com base em elementos técnicos: a filosofia da ciência. Cito alguns nomes desses grandes filósofos da ciência: Henri Poincaré, que refletiu filosoficamente sobre a ciência por ele mesmo ter sido físico e matemático, Karl Popper, autor da célebre A lógica da pesquisa científica, e Rudolph Carnap, autor de A estrutura lógica do mundo. O fato é que hoje não é possível fazer lógica e filosofia da ciência sem esses “componentes técnicos” que Paranhos erroneamente afirma que faltam à filosofia. Tampouco poderíamos fazer filosofia da mente. Dificilmente haverá um curso de graduação em filosofia que não ofereça a disciplina de lógica. E me permito dizer que, no projeto de grade curricular que apresentei alguns anos atrás no meu departamento de filosofia, a disciplina de lógica duplica em carga horária às outras disciplinas obrigatórias. Paranhos, médico de formação, talvez desconheça o que clássicos da filosofia mantiveram sobre o assunto. Platão, ao que parece, proibia a entrada na Academia se alguém não soubesse geometria. E não entenderíamos o pensamento, os problemas e as soluções a esses problemas oferecidas por Descartes, Hobbes, Espinosa e, em geral, os modernos, se não compreendêssemos que eles pensavam que devia se fazer filosofia à maneira dos geômetras.
Um erro cometido por Paranhos diz respeito à estrutura dos cursos de graduação em filosofia. Pois esses cursos não só oferecem aos seus estudantes a possibilidade de serem professores de filosofia (na habilitação de licenciatura) mas, também, a de serem pesquisadores (na habilitação bacharelado). Portanto, é falso que os cursos de graduação em filosofia tenham ou devam ter em mente exclusivamente a formação de professores e meros comentadores. Se possuem a habilitação de bacharelado, como o meu, por exemplo, querem, também, formar pesquisadores. E eu, particularmente, não limito o termo “pesquisar”, isto é, “buscar”, ao que me exigiria ficar em pé, andar dois passos e ler um livro de um filósofo consagrado para “comentar” o que ele já disse, já pesquisou e já achou. Se a isso se limitaria o que fizesse qualquer pesquisador em filosofia, não haveria filosofia — certamente, não haveria nova filosofia, e tudo se limitaria a um comentar enfadonho e interminável o que outrora foi feito.
Numa passagem do seu texto encontramos estas afirmações:
O músico formado pela sua faculdade será um intérprete de grandes compositores, não será (necessariamente), ele próprio (grande) compositor. O médico, por sua vez, apenas repetirá técnicas consagradas por pesquisadores da área, não inventará nada. Será um repetidor. O intérprete de música e o médico-técnico [!] equivalem ao professor/comentador de filosofia depois que recebem o canudo.
No que diz respeito ao músico, há um problema. Pois nas faculdades de música não só se formam instrumentistas, ou intérpretes, mas também compositores. Aliás, a Universidade Federal de Goiás tem, não digamos uma disciplina de composição, mas o curso de composição. Desse modo, assim como o curso de composição forma compositores, o de filosofia, se esse é seu nome, isto é, “curso de filosofia”, deveria, também, formar filósofos. Por outro lado, parece-me difícil chamar o médico, em geral, de “médico-técnico”. Flávio Paranhos é médico, e deve ter base para dizer isso, mas, pelo que eu sei, aqui mesmo em Goiânia podemos ver que há áreas da medicina que são referência nacional. Acho difícil aceitar que um médico, de qualquer lugar, se limite a, meramente, ser um “repetidor” de técnicas consagradas e não seja, como vemos em várias especialidades, um inovador — até pela própria exigência de sua profissão, na qual não se tratam doenças, em abstrato, mas doentes, isto é, indivíduos específicos e seus casos únicos.
O filósofo, a diferença do mero comentador, é filósofo porque resolve problemas. Isso nos faz filósofos. Quem é filósofo pode e deve estar em condições de dizer: sou filósofo porque tive, e tenho, tais problemas e tentei resolvê-los dessa ou desta maneira. Hoje há problemas que, como filósofos, nos cabe resolver. Para citar alguns casos: as questões éticas envolvidas nas pesquisas de engenharia genética, clonagem de seres humanos ou de órgãos humanos, pesquisa com células tronco, o aborto, pena de morte, eutanásia, morte assistida etc. Nos países em que se faz filosofia, e não simplesmente se comenta o que outrora foi feito, convocam-se os filósofos para discutir essas questões com diversas comissões parlamentares e assessorá-las em questões de legislação. Essa, por exemplo, é uma das formas como o filósofo se integra e interage com a sociedade, e ali se percebe seu compromisso com os problemas do presente e do futuro. Em outros lugares, lamentavelmente, parece que o mais normal é que quem se forme num departamento de filosofia se dedique a, exclusivamente, dissecar as mentes dos mortos, e vangloriar-se por isso. Estudar ideias de grandes filósofos do passado tem, sem dúvida, enorme interesse, e a isso dedico boa parte do meu tempo — e o faço com enorme prazer. Isso, repito, tem seu interesse, mas a filosofia não se limita a isso.
Surpreendentemente, já no final do seu artigo, Flávio Paranhos se contradiz. Pois como pode exigir que os departamentos de filosofia contratem professores para abrirem áreas na “filosofia da medicina”, “filosofia da engenharia”, “filosofia da biologia” etc. se, pelo que ele mesmo afirmara no início do artigo, a filosofia não possui o componente “técnico” que a medicina, a engenharia e a biologia têm? Estas últimas, pensa Paranhos, têm uma natureza distinta da filosófica. Mas Paranhos se esquece de dizer qual é a natureza da filosofia! Este “pequeno” detalhe passou por alto, como se fosse óbvio qual seja a “natureza” da filosofia ou do pensamento filosófico. Desafio Paranhos, ou qualquer um, a que tente dizer qual é essa natureza de um modo que nenhum grande filósofo, de nenhuma época, fique de fora – isto é, fique excluído como não filósofo.
O que falta em alguns lugares é justamente o que Paranhos fez, dizer o que pensa e se dirigir a um vivo, para que este responda. O mais conveniente e cômodo, para quem não nasceu para filósofo, é que a sociedade não cobre dele o que em outros lugares se cobra: posicionamentos próprios, teorias próprias, problemas próprios, ideias próprias. Imaginemos isto: que aconteceria se, por alguma espécie de milagre, toda informação sobre os filósofos do passado fosse esquecida. Em alguns lugares do mundo a filosofia continuaria como sempre foi feita, discutindo-se problemas atuais e pensando-se no presente e no futuro. E no Brasil, o que faria o professor de filosofia se não pudesse comentar o que, pelo exemplo, a humanidade toda esqueceu? Que faria então? Faria o que não fez Paranhos, ficar em silêncio. Paradoxalmente, Paranhos, que não se considera um filósofo, faz o que muitos que professam a filosofia não se atrevem a fazer: pensar por si mesmo, levantar problemas e expô-los publicamente. Por isso, sinceramente, dou lhe meus parabéns e agradeço. Atitudes como a de Paranhos são extremamente importantes — mas no Brasil raras —, pois, num sentido importante, a filosofia se faz assim, pelo diálogo com os vivos.
[1] Foi em março de 2005. O link da página é: http://www.jornalopcao2.com.br/index.asp?secao=Op%E7%E3oCultural&subsecao=Suplementos&idjornal=124
| *Gonçalo Armijos Palácios José Gonzalo Armijos Palácios possui graduação e doutorado em Filosofia pela Pontificia Universidad Católica Del Ecuador (1978 e 1982, respectivamente) e doutorado em Filosofia pela Indiana University (1989). Realizaou estudos de pós-doutorado na Indiana University em 1996 e 1997. Desde1992 é professor titular da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, metafilosofia, filosofia política e ensino de filosofia. Participou do Grupo de Sustentação para a criação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, em 2006, do qual foi seu primeiro coordenador eleito. Foi o fundador do Curso de Pós-Graduação em Filosofia da UFG (1993), da revista Philósophos (1996), do Curso de Graduação em Filosofia da cidade de Goiás da UFG, em 2008, e participou da criação do Campus Cidade de Goiás da UFG em 2009. |
| publicado originalmente na Coluna Ideias do Jornal Opção |
O post A filosofia como diálogo com os vivos apareceu primeiro em filosofia pop.






